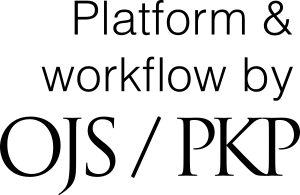Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz: Música e Produção de Sentidos num CAPS da Amazônia Ocidental
DOI:
https://doi.org/10.17058/psiunisc.v2i2.11801Palavras-chave:
Música, Reabilitação social, Interação social.Resumo
O objetivo com este artigo foi descrever os sentidos produzidos acerca das experiências musicais vivenciadas por usuários de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da região Amazônica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada por meio de uma entrevista semiestruturada com dez participantes de uma oficina de música. A análise dos depoimentos teve como orientação a Análise do Discurso sob a perspectiva da Psicologia Discursiva e permitiu identificar quatro repertórios interpretativos: a) a música como recurso ativador das lembranças; b) a oficina de música como elemento de desconstrução social do preconceito; c) os encontros musicais como espaço de interação social; e d) as atividades musicais como recurso terapêutico. Conclui-se que a intervenção por meio da música pode refletir na instituição de saúde de forma positiva, proporcionando a instauração de um ambiente terapêutico no qual o usuário se sente valorizado em dimensões que normalmente não são abordadas no sistema convencional de assistência à saúde.
Downloads
Referências
Amarante, P. (2011). Saúde mental e atenção psicossocial. 3. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz.
Azevedo, D. D., & Miranda, F. A. N. D. (2011). Oficinas terapêuticas como instrumento de reabilitação psicossocial: percepção de familiares. Esc Anna Nery, 15(2), 339-345.
Backes, D. S., Ddine, S. C., Oliveira, C. D. L., & Backes, M. T. S. (2003). Música: terapia complementar no processo de humanização de uma CTI. Nursing, 6(66), 37-42.
Batista, E. C., & Ferreira, D. F. (2015). A música como instrumento de reinserção social na saúde mental: um relato de experiência. Revista Psicologia em Foco, 7(9), 67-79.
Batista, N. S., & Ribeiro, M. C. (2016). O uso da música como recurso terapêutico em saúde mental. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, 27(3), 336-341.
Botton, A., Cúnico, S. D., & Strey, M. N. (2017). Diferenças de gênero no acesso aos serviços de saúde: problematizações necessárias. Mudanças-Psicologia da Saúde, 25(1), 67-72.
Bergold, L. B., & Alvim, N. A. T. (2009). A música terapêutica como uma tecnologia aplicada ao cuidado e ao ensino de enfermagem. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, 13(3), 537-542.
Bréscia, V. L. P. (2003). Educação musical: bases psicológicas e ação preventiva. São Paulo: Átomo.
Cedraz, A., & Dimenstein, M. (2005). Oficinas terapêuticas no cenário da Reforma Psiquiátrica: modalidades desinstitucionalizantes ou não? Revista Mal Estar e Subjetividade, 5(2), 300-327.
Chiarelli, L. K. M., & Barreto, S. D. (2005). A música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser. Revista Recre@rte, (3), 1699-1834.
Coqueiro, N. F., Vieira, F. R. R., & Costa, M. M. (2010). Arteterapia como dispositivo terapêutico em saúde mental. Acta Paulista de Enfermagem, 23(6), 859-862.
Edwards, D. (2004). Psicologia Discursiva: unindo teoria e método como exemplo. In L. Iñiguez (Ed.). Manual de análise do discurso em ciências sociais. (pp. 181-205). Petrópolis, RJ: Vozes.
Fonseca, K. C., Barbosa, M. A., Silva, D. G., Fonseca, K. V., Siqueira, K. M., & Souza, M. A. (2009). Credibilidade e efeitos da música como modalidade terapêutica em saúde. Revista Eletrônica de Enfermagem, 8(3).
Freitas, B. S., Matos, C. C. R., Silva, P. M., Santos, J. S., & Batista, E. C. (2017). Perfil de usuários diagnosticados com esquizofrenia de um CAPS do interior de Rondônia. Nucleus, 14(1), 41-54.
Gainza, V. H. (2014). Estudos de Psicopedagogia Musical. 3. ed. São Paulo: Summus.
Gergen, K. J., & Gergen, M. (2010). Construcionismo social: um convite ao diálogo. Rio de Janeiro: Instituto NOOS.
Guanaes, C. (2006). A construção da mudança em terapia de grupo: um enfoque construcionista social. São Paulo: Vetor.
Iñiguez, L. (2004). A Análise do Discurso nas ciências sociais: variedades, tradições e práticas. In L. Iñiguez (Ed), Manual de Análise do Discurso em Ciências Sociais (pp. 105-160). Petrópolis, RJ: Vozes.
Matoso, L. M. L., & de Oliveira, A. M. B. (2017). O efeito da música na saúde humana: base e evidências científicas. Ciência & Desenvolvimento Revista Eletrônica da FAINOR, 10(2), 76-98.
Oliveira, G. C., Lopes, V. R. S., Damasceno, M. J. C. F., & da Silva, E. M. (2012). A contribuição da musicoterapia na saúde do idoso. Revista Cadernos UniFOA, 20, 85-94.
Potter, J., & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology. London: Sage Publications.
Rasera, E. F. (2013). A Psicologia Discursiva nos estudos em Psicologia Social e Saúde. Estudos e Pesquisas em Psicologia, 13(3), 815-834.
Rasera, E. F. & Rocha, R. M. G. (2010). Sentidos sobre a prática grupal no contexto de saúde pública. Psicologia em Estudo, 5(2), 35-44.
Resende, R. L., Souza, L., Lucchese, R., Vera, I., Castro, P. A., & Mónico, L. (2015). A vivência de pessoas em sofrimento mental e alunos de enfermagem em oficina de música. CIAIQ2015, 1(1), 421-425.
Spink, M. J., & Medrado, B. (2004). Produção de sentidos no cotidiano: uma abordagem teórico- metodológico para análise das práticas discursivas. In M. J. Spink (Ed.), Práticas discursivas e produções de sentido no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas (pp. 17-39). Rio de Janeiro: Cortez.
Xavier, S., Klut, C., Neto, A., Ponte, G. D., & Melo, J. (2013). O estigma da doença mental: que caminho percorremos? Psilogos: Revista do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, 11, 10-21.
Wazlawick, P., Camargo, D. D., & Maheirie, K. (2007). Significados e sentidos da música: uma breve “composição” a partir da psicologia histórico-cultural. Psicologia em Estudo, 12(1), 105-113.
Zanettini, A., Souza, J. B. D., Eloá, V., Finger, D., Gomes, A., & Santos, M. S. D. (2015). Quem canta seus males espanta: um relato de experiência sobre o uso da música como ferramenta de atuação na promoção da saúde da criança. Revista Mineira de Enfermagem, 19(4), 1060-1069.
Zimmermann, N. (2007). A música através dos tempos. São Paulo: Paulinas.
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
A submissão de originais para este periódico implica na transferência, pelos autores, dos direitos de publicação impressa e digital. Os direitos autorais para os artigos publicados são do autor, com direitos do periódico sobre a primeira publicação. Os autores somente poderão utilizar os mesmos resultados em outras publicações indicando claramente este periódico como o meio da publicação original. Em virtude de sermos um periódico de acesso aberto, permite-se o uso gratuito dos artigos em aplicações educacionais e científicas desde que citada a fonte conforme a licença CC-BY da Creative Commons.